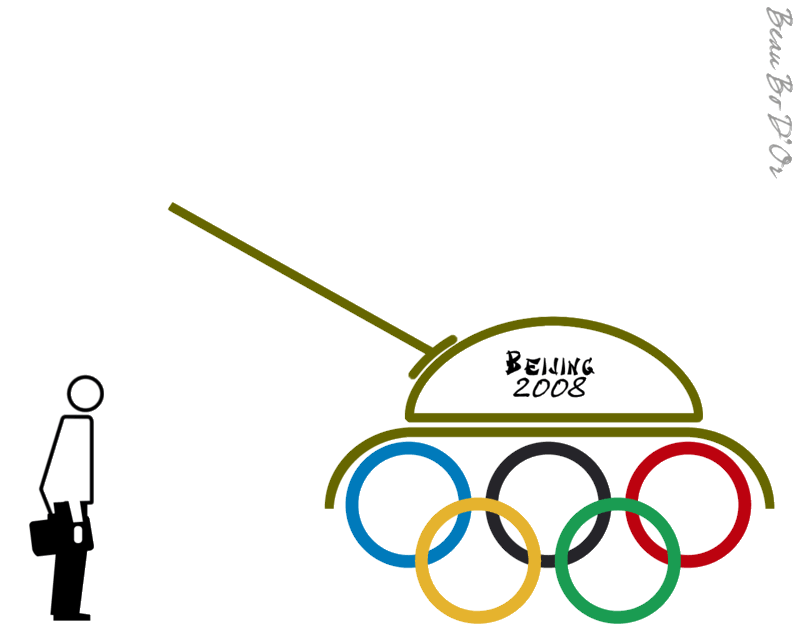Quando visitei Paris, no Verão passado, recordo-me de, ao passar em frente ao Hôtel de Ville (o cenário em que se beijavam os dois amantes da famosíssima foto de Robert Doisneau), se encontrar aí um poster gigantesco com a imagem de Ingrid Betancourt (a França sempre fez do seu resgate uma causa nacional). Nada me fazia adivinhar que, quase um ano mais tarde, Ingrid conheceria, de facto, a liberdade. No meio do regozijo geral, só uma voz se calou: a do PCP. No seu primeiro comunicado à imprensa, não se encontrava uma única palavra de contentamento pelo fim do cativeiro dos quinze reféns. Na Assembleia, recusou-se a subscrever o voto de congratulação aprovado pelos demais partidos, propondo um outro, da sua lavra, insistindo em não condenar as FARC, em virtude da duvidosa amizade que os comunistas mantêm com a guerrilha colombiana, por ambos partilharem a mesma ideologia marxista.
Não me interessa aqui zurzir no PCP, que assim se descredibiliza e desonra a esquerda, mas antes reflectir sobre a forma como a pessoa saiu do centro da discussão política, para ser suplantada pelo fundamentalismo ideológico ou pelo seu oposto, o relativismo da conveniência (também chamado Realpolitik). O PC cometeu, dos dois, o primeiro pecado. Acima de toda a ideologia está o homem (neste caso concreto que discutimos, a mulher). Nenhum valor é absoluto, porque sujeito à régua da pessoa: “O homem é a medida de todas as coisas”, dizia bem Protágoras. Honra, verdade, justiça: nobres que sejam – e são – estes valores, devem cair aos pés da pessoa, a quem devem servir. Até Deus, neste particular, se inclina ante o homem: a incapacidade de o perceber foi o que esteve na base desse erro colossal que foi a Inquisição, em que se julgou justo matar por crime de lesa-divindade (o mesmo mau juízo o fazem hoje os radicais islâmicos). De igual doença e cegueira morre o capitalismo, que, com a sua tónica no lucro, perdeu a pessoa para ter a máquina (estava tudo na 25ª Hora, de Gheorghiu – urge reler!).
O segundo pecado que apontámos não é, contudo, menos grave que o primeiro. Apagar a pessoa do discurso político em função de conveniências & convivências é igualmente trágico. É a isso que o mundo, por exemplo, tem vindo a assistir no caso do Zimbabwe (e também aqui o PCP foi o único partido do Hemiciclo que se absteve aquando da aprovação de um voto de condenação da situação política daquele país). Dias depois das mais que fraudulentas «eleições» no país, os líderes africanos receberam Mugabe, o «novo» presidente (esse mesmo que Sócrates convidou para a Cimeira EU-África), no Egipto, tendo o presidente do Gabão afirmado que “acolhemos Mugabe como um herói”. Percebe-se a condescendência: o autor da afirmação já se encontra ele mesmo no poder há quarenta e um anos. Entretanto, soube-se que os EUA usaram em Guantánamo técnicas de tortura chinesa e que os guardas tiveram formação específica sobre as mesmas. A UE, há coisa de quinze dias, aprovou a Directiva do Retorno, para controlar a imigração, de uma severidade impensável, para escorraçar aqueles que, mais e mais, contribuem para a sua construção (muito literalmente).
Neste vomitado de notícias, dá vontade de perguntar: e as pessoas? Que silêncio sobre os métodos ilegais de Mugabe pode calar a fome e o sangue dos zimbabwianos (ou o das vítimas do Darfur, cujo governo assassino é apoiado por essa China a que vamos agora todos lamber as botas nos Jogos Olímpicos)? Como é possível que os guardas de Guantánamo vissem à sua frente terroristas, mas não pessoas, impossíveis de serem torturadas? Como não vê o Parlamento Europeu o desespero daqueles que arriscam tudo por uma esperança chamada Europa e os recambia de volta para os seus países, como se tratassem de produtos com defeito que se devolve à fábrica? Perderam-se, na política, as pessoas. Só há já números, palavras, abstracções. Não entendo não entendo não entendo. Como é que chegámos a isto, meu Deus? Como é que saímos disto, meus homens?