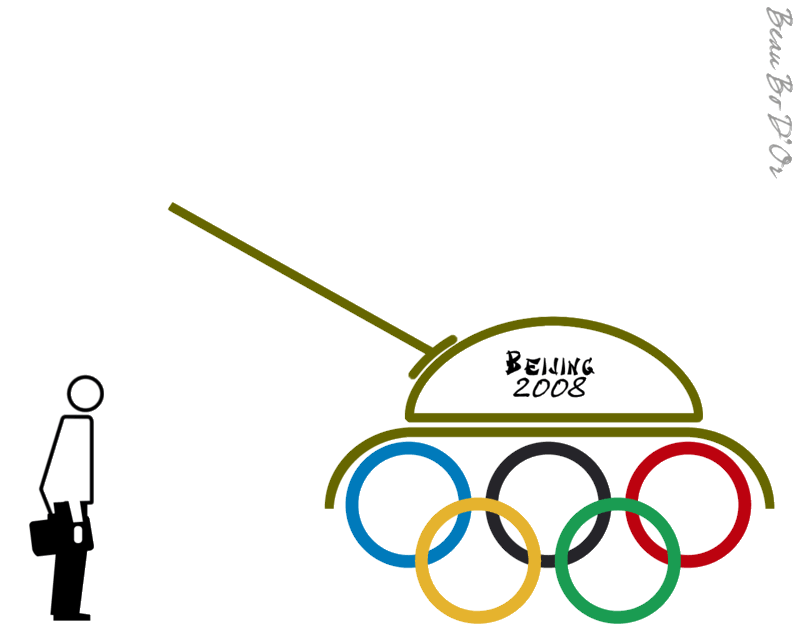No primeiro dia do mês, a cidade acolheu o campeonato nacional de marcha, levando ao corte dalgumas das principais artérias da cidade e à abertura de outras improvisadas. Tenho de agradecer a Susana Feitor e João Vieira o terem forçado à inauguração de uma ligação entre a minha escondida rua e a da estação de comboio, pequeno atalho útil que, contudo, um só dia me serviu: a passagem foi já entretanto encerrada. A experiência, porém, por curta que tenha sido, bastou para ouvir – até de desconhecidos, que arriscaram conversa comigo – elogios ao prático e rectilíneo caminho que se abriu, paralelo à linha de comboio.
No primeiro dia do mês, a cidade acolheu o campeonato nacional de marcha, levando ao corte dalgumas das principais artérias da cidade e à abertura de outras improvisadas. Tenho de agradecer a Susana Feitor e João Vieira o terem forçado à inauguração de uma ligação entre a minha escondida rua e a da estação de comboio, pequeno atalho útil que, contudo, um só dia me serviu: a passagem foi já entretanto encerrada. A experiência, porém, por curta que tenha sido, bastou para ouvir – até de desconhecidos, que arriscaram conversa comigo – elogios ao prático e rectilíneo caminho que se abriu, paralelo à linha de comboio. Isto das marchas parece, de facto, estar hoje na moda. Sábado passado, os professores promoveram a intitulada «Marcha da Indignação», reunindo cem mil manifestantes (avassalador número). Por repetidas vezes crocitei neste espaço o meu desagrado pela actual Ministra e o seu gabinete: não pude, por isso, deixar de rejubilar perante tal manifestação de força dos docentes, a quem, não me podendo unir em corpo, me juntei em espírito e, agora que escrevo, em letras. O PS, amedrontado, em vão quis responder com uma marcha de rua também, mas o beija-mão já foi transferido entretanto para um discreto pavilhão no Porto, entre quatro paredes.
Podia (e isso tenta-me como uma maçã) falar – seria óbvio, é o tema quente – sobre a situação insustentável que se atingiu na educação. Outro, porém, é o fenómeno que me atrai: esta nova vaga de marchas populares (e ainda não estamos no tempo dos santos). Há quem a tema e quem a saúde. Já ouvi rumores de PREC, já li comparações com esse tempo que eu não vivi: os ânimos andam exaltados. A questão, porém, permanece (Pacheco Pereira dedicou-lhe a sua última crónica no Público): porque estão as pessoas a sair à rua? Augusto Santos Silva acusa forças “de natureza anti-democrática” e faz lembrar a irritação de Sócrates quando este, confrontado com as manifestações populares em Montemor-o-Velho em Outubro passado, acusou o PCP e os sindicalistas de as orquestrarem. O governo falha em perceber que nenhuma força de carácter político ou afim poderia, por exemplo, mobilizar o assombroso número de professores que se manifestaram em Lisboa. Na realidade, muitos confessaram às televisões e jornais ser a primeira vez que participavam em acções de rua, e outros tantos sublinharam o seu carácter apolítico: é porque não acreditam nos partidos que as pessoas estão, enfim, a sair à rua.
Falo em nome de uma geração desencantada, a minha. Robert Redford, conhecido actor e cineasta, numa entrevista a um canal britânico a propósito do seu mais recente filme Peões em Jogo, explicava que os jovens se tornaram tão indiferentes à política por nunca terem conhecido uma liderança moral. Porque deixámos de acreditar que os partidos possam resolver os problemas que afectam a sociedade, carregámo-nos nós com essa responsabilidade, independentes. A internet oferece a plataforma ideal para essa contracorrente: veja-se a reportagem que o Público dedicou, aquando da marcha dos professores, aos blogues da autoria destes e ao seu papel na discussão pública dos decisões ministeriais, como o A Educação do Meu Umbigo, um dos mais frequentados (por mim também) de toda a blogosfera portuguesa.
Há, porém, uma fresta de esperança. Veja-se o fenómeno Obama, nos EUA, em que os jovens estão a desempenhar um papel importantíssimo. Estamos famintos de mudança, de ventos novos, que arejem o ar bafiento do establishment político. Não podemos por isso deixar de nos alegrar com o anúncio de um novo partido, por enquanto um movimento apenas. Não cremos nos velhos partidos, mas aos novos estamos talvez dispostos a dar uma chance (veja-se o caso sintomático do BE, que, quando surgiu, procurando vender-se como corpo estranho ao sistema, ganhou uma boa base de apoio juvenil, que fomentou o seu crescimento). Dêem-nos razões para acreditarmos no futuro, esse tempo desempregado, como nós, os jovens.