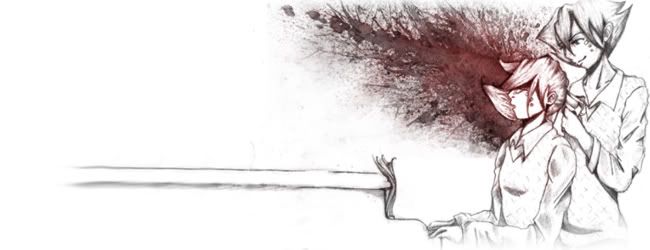Depois do ataque ao Sistema Nacional de Saúde, eis o ataque à rede pública de ensino de música, essa arte maior, das artes a maior. De novo, tudo se pratica com boas intenções (o povo e os artistas é que, lá está, são burros, coitados!): desta vez, o alibi é a democratização do ensino da música. Pretende a Ministra que os conservatórios não possam dar aulas (os chamados cursos de iniciação) aos alunos do primeiro ciclo que, doravante, serão iniciados na arte musical na própria escola, no âmbito das actividades de enriquecimento curricular. Uma coisa, porém, não substitui a outra; posso afirmá-lo por experiência própria, eu que tive quer educação musical na primária, quer aulas de piano por fora, numa escola privada. Basta considerarmos que, numa turma, apenas se pode fazer uma sensibilização geral para a música, porque a aprendizagem séria de um instrumento requer um acompanhamento individual: não se pode ensinar piano a uma turma de trinta alunos (vulgarmente, escolhe-se a flauta de bisel, portátil, simples e barata). Para ultrapassar este limitação é que o conservatório oferece uma formação musical especializada, de seis horas por semana, às crianças.
A loucura da Ministra, contudo, não conhece limites, tendo passaporte para todas as fronteiras que pudéssemos conceber. Pretende pois o Ministério extinguir ainda o regime de frequência supletivo do conservatório, o mais comum, que permite ao aluno frequentar paralelamente o ensino normal e o musical, sem que seja obrigado a decidir-se especificamente por um deles. O fim deste modelo traduzir-se-á na perda de 75% dos actuais estudantes do Conservatório de Lisboa. Doravante, apenas o regime integrado estará disponível, o que obriga a que a opção por uma carreira musical de carácter profissional seja feita com somente dez anos. Esta situação – que uma criança, tão nova, seja forçada a decidir o seu futuro – é tão ridícula que, sou-vos franco e aberto, faltam-me palavras para a comentar: não sei que diga – apenas me resta o espanto ante a situação em que naufragámos. Com esta reforma, quem queira aprender um instrumento, sem desejos de fazer da música profissão, não tem mais os conservatórios.
No seminal 1984 de Orwell, todos os ministérios são nomeados pelo seu antónimo: assim, por exemplo, o Ministério da Paz é o responsável por perpetuar a guerra em Oceânia. Da mesma forma, em Portugal, o Ministério da Educação está na verdade encarregue da deseducação geral. Lamento que o novo Ministro da Cultura ainda não se tenha debruçado sobre este problema, contendo a insensatez da sua colega de governo. A música, como toda a arte, exercício humano de transcendência, é uma característica essencial da nossa natureza. Nela se exprime muito da grandeza ou ridículo de uma nação. Mesmo os cépticos e economistas têm de se curvar perante os números: a cultura representa 2,6% do PIB da UE, bem mais que o sector têxtil, a restauração ou o tabaco. Vale a pena investir nela. Estes aspectos financeiros, para mim, porém, são o menos relevante: o importante é a formação de homens, íntegros e integrais.
Contra isso combate o Ministério: contra ele combatemos nós.
imagem: fotograma de Tirez Sur Le Pianiste (1960), de Truffaut.